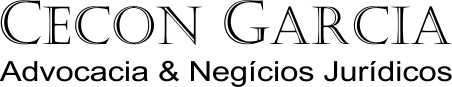E-MAIL: contato@cecongarcia.adv.br
WhatsApp (19) 3825-1444
Rua Ademar de Barros, 146 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3825-1444
Ao Jornal do Advogado, Kendall Thomas fala sobre avanços e desafios da Declaração de Direitos Humanos
Professor de Direito, cofundador e diretor do Centro para o Estudo do Direito e Cultura na Columbia Law School, Kendall Thomas lecionou em persos países como França, Holanda, Inglaterra, República Tcheca, Alemanha, Haiti e África do Sul. Ativista dos direitos humanos, tem atuação voltada às minorias, mulheres e negros. Nesta entrevista, reflete sobre a luta para efetivar as garantias inpiduais destes cidadãos, bem como os avanços e desafios conquistados durante os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. Houve mais avanços ou contratempos?
É difícil, se não impossível, para os advogados da minha geração imaginar um mundo sem a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) ou sem a “ideia de direitos humanos”. A conquista só pode ser totalmente apreciada lembrando o contexto histórico do qual ela surgiu. Os homens e mulheres que desejaram a DUDH tinham acabado de viver duas terríveis guerras mundiais, sendo que a segunda culminou na produção e uso de armas atômicas, cuja destrutividade e devastação serviram como as dores do parto para a nova realidade do pós-guerra: a era nuclear e destruição mutuamente assegurada. O pronunciamento de que a “dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana é o fundamento da liberdade, justiça e paz no mundo” pode parecer singular para nós hoje, mas nunca devemos esquecer que essas palavras foram escritas no sangue, lágrimas e cinzas de milhões de homens, mulheres e crianças massacrados, mutilados, presos, torturados, aprisionados e expulsos de suas casas e pátrias. Nos 70 anos, desde que foi escrito, o planeta foi poupado de uma Terceira Guerra Mundial. Nós nunca saberemos se, ou em que medida, a DUDH é responsável pela “paz quente” que se manteve desde sua adoção. No entanto, acho que está claro que a DUDH constituiu uma comunidade internacional de direitos humanos, que a utilizou e outros instrumentos, como um recurso para defender alternativas à guerra e à violência. Dito isso, como o filósofo Jacques Derrida, acho que a maior lição que devemos tirar da Declaração e da “Era dos Direitos Humanos” que ela inaugurou é que são direitos ao mesmo tempo indispensáveis, mas insuficientes.
Quais são os principais desafios para a defesa desses direitos nos próximos anos?
Acredito que haverá uma série de desafios contínuos, que podem vir a ser lembrados como a “Era da Desumanidade”. O compromisso mundial com a ideia de direitos humanos já está sendo testado, até o ponto de ruptura, pela migração e refugiados e a epidemia de apatridia; o uso do terror como política; o etnonacionalismo, xenofobia e pensamento “tribalista”; e a indiferença das nações em relação aos direitos básicos de populações vulneráveis – mulheres, pessoas LGBTQI+, grupos raciais e étnicos, minorias religiosas e outros cidadãos –, cujos direitos humanos e constitucionais estão sendo violados diariamente. Igualmente urgente, são as implicações da enorme desigualdade econômica que surgiu na esteira da globalização e do capitalismo neoliberal. E não devemos esquecer a iminente catástrofe planetária da mudança climática, cujas dimensões dos direitos humanos só serão plenamente reveladas à medida que mais e mais a Terra se tornar inabitável por causa do clima cada vez mais extremo e da degradação, e eventual desaparecimento, de alimentos e água em muitas partes do mundo.
Em 2017, a Anistia Internacional pulgou um ranking de países onde há número recorde de ativistas assassinados, com Brasil no topo. Por que há essa reação violenta?
Se eu tivesse que oferecer uma resposta de uma só palavra, seria “medo”, especificamente o medo da liberdade e o medo de que o comprometimento com a cultura dos direitos humanos levasse a demandas por uma justiça democrática. Vivemos num mundo em que aqueles que se opõem aos direitos humanos são motivados, no todo ou em parte, por um ódio à própria ideia de democracia e de Estado de Direito, o que consideram ameaças aos seus interesses, poder e privilégio. A violência contra ativistas de direitos humanos no Brasil, como em qualquer outra parte, reflete um cálculo cínico de que ninguém vai se importar. Um dos motivos pelos quais os amigos dos direitos humanos em todo o mundo apoiaram o movimento de justiça social que surgiu aqui no Brasil, após o assassinato em março, no Rio de Janeiro, da ativista e vereadora Marielle Franco, deve mostrar que a comunidade internacional se importa profundamente com a segurança e proteção daqueles que estão organizando e liderando populações vulneráveis na demanda pelo “direito de ter direitos”.
A Lei do Feminicídio no Brasil agrava a pena pelo assassinato de mulheres devido ao gênero. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a taxa de feminicídio no país é a quinta maior do mundo. A legislação é suficiente para mudar essa cultura?
São estatísticas horríveis. O problema da violência contra as mulheres é um escândalo dos direitos humanos. As condições culturais são tanto uma causa quanto consequência da violência baseada em gênero. Há um trabalho cultural importante a ser feito para mudar os corações e mentes de homens e mulheres. Considere o ataque ao que eufemisticamente chamam de “ideologia de gênero” por brasileiros cujo alvo real é o sexo e a igualdade sexual, equidade e inclusão. O movimento “ideologia anti-gênero” tem sido muito eficaz na mobilização de uma “política de significado” cultural que explora e manipula os medos e a ansiedade das pessoas em relação às mudanças sociais. Essa política cultural deve ser satisfeita em seu próprio terreno com estratégias que exponham a pobreza de uma visão do Brasil, diante de sua persidade, em que só podem ter um tipo de família ou um tipo de intimidade, ou apenas uma maneira de amor ou de viver a vida. O Direito sempre foi uma arena central para codificar e legitimar o controle que os homens, como grupo social, exerceram e continuam exercendo sobre as mulheres. Continuará sendo uma ferramenta importante no combate às ideologias de supremacia, dominação masculina e a negação do pluralismo democrático. É o que o grande advogado e juiz sul-africano Albie Sachs chamou de “o direito de ser diferente”.
O Brasil foi o último país a abolir a escravidão há 130 anos. Reflexo: a população negra apresenta baixa inserção socioeconômica. Pode-se resolver essa distorção?
O primeiro passo é reconhecer o poder e a presença contínuos em todas as instituições brasileiras da desigualdade racial. O mito nacional brasileiro de “democracia racial” insiste, nas palavras de um dos primeiros livros que li sobre o assunto: “não somos racistas”. É justamente esse “racismo sem racismo” que normalizou a desvantagem econômica, a impotência política e a exclusão social, que se concentram tão esmagadora e desproporcionalmente nas comunidades de cor. As pessoas de ascendência africana representam mais da metade da população do país, mas ganham 46% menos do que os brasileiros brancos. Alguém poderia argumentar que essa desigualdade econômica é uma função da classe social e não da cor da pele, mas quando nos voltamos para as instituições e notamos que 71% das vagas no Congresso são ocupadas por brancos, levanta-se a suspeita de que essas desigualdades e desequilíbrios são tanto sobre raça quanto sobre poder econômico.
No Brasil, parte da população avalia negativamente os direitos humanos, vinculando-os à defesa de criminosos. Como esclarecer sua real relevância?
Os advogados têm um dever profissional, cívico e moral, de educar o público sobre a estranha e inquietante semelhança entre esse ataque aos direitos humanos (e, por implicação, ao devido processo e a regra do direito, a lei) e os argumentos contra o devido processo e o Estado de Direito que os nacional-socialistas tomaram depois na Alemanha nazista. A criminalização dos direitos humanos, ou a associação dos direitos humanos com o crime e os criminosos, me parece uma versão da política “nós e eles” que Jason Stanley identificou como uma das características centrais do autoritarismo. Eu sei que estas são palavras fortes, mas a história nos ensina que é apenas um pequeno passo do armamento da lei e do argumento de que somente os criminosos recorrem aos direitos humanos à ideia de que os criminosos não são humanos (ou pelo menos não da maneira que nós “somos humanos”) e, portanto, não precisam receber nenhum direito.
A Constituição brasileira completou 30 anos, com texto avançado sobre direitos e garantias inpiduais. Em termos práticos, o Estado precisa avançar em relação a esses direitos. O que poderia explicar essa incompatibilidade?
A proteção dos direitos inpiduais deve ser buscada, primeiro e principalmente, nos limites estruturais do poder do governo, naqueles freios e contrapesos que dificultam que qualquer setor, governo, ou o estado como um todo, viole os direitos das pessoas. Não sou especialista em teoria constitucional brasileira, mas, como observador estrangeiro, percebo a ausência nas instituições políticas do sistema de “freios e contrapesos” que não apenas separa Poder Legislativo, Judiciário e Executivo, mas também concessões a funcionários em cada setor do governo, o motivo e os meios para restringir o excesso de funcionários dos outros. Como observou o professor Torquato Jardim em uma palestra de 2017 em Washington, o sistema brasileiro teve uma tendência a concentrar o poder nas mãos do Executivo: presidente, governadores e prefeitos. O risco é que aqueles que são cobrados para fazer cumprir a lei sentirão que a lei não se aplica a eles. É essa amoralidade política que não apenas torna as proteções e garantias dos direitos inpiduais insignificantes, como também gera desprezo por um dos princípios centrais do constitucionalismo democrático: a ideia de que nenhum homem ou mulher, nem mesmo aqueles em posições de alto poder, está acima da lei.
A fundação da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o julgamento de crimes contra a humanidade ocorreram após a II Guerra Mundial. Estruturas como o Tribunal Penal Internacional foram criadas. Alguma lacuna que precisa ser preenchida?
A história dos direitos humanos não terminou. Aqueles de nós que estão comprometidos em escrever o futuro dos direitos humanos e defendê-los devem insistir na integridade e independência de uma esfera e discurso públicos, que não esteja sob o controle de direitos humanos ou requisitado pelo sistema estatal internacional (e isso incluiria a ONU e o Tribunal Penal). Um dos principais desafios normativos e estruturais que os direitos humanos e os advogados enfrentam é mobilizar um eleitorado internacional dos “governados” (na expressão de Michel Feher) que se solidarizará com o refugiado, e ficará ao lado dos apátridas cuja perda de cidadania colocou sua própria humanidade na balança. Este é um desafio em que o sistema estatal global, por sua própria natureza, não tem interesse, para o qual pode ser indiferente e até mesmo hostil. A ideia da “regra do direito dos direitos humanos” dependerá da disposição daqueles que, na sociedade civil internacional, são cidadãos que se comprometem com “políticas não governamentais” centradas nos direitos humanos dos apátridas, e o reconhecimento de que vivemos em um mundo interconectado de “destino vinculado” (para usar o termo de Michael Dawson). Um mundo em que o refugiado cujo direito aos direitos humanos eu defendo hoje, poderia um dia, ser a mãe do melhor amigo da minha filha, meu genro ou primo, o vizinho, um colega estimado, um aluno favorito... ou eu.
Fonte:
OAB São Paulo
17/01/2019 (00:00)